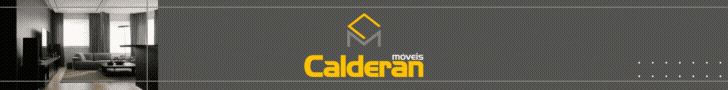“Na aldeia estudei até a quarta série. Era o que tinha antigamente e não pude concluir meus estudos, mas eu sabia que esta oportunidade não poderia ser negada aos meus filhos”. Pensando nisso, Zenir Eloy criou forças para deixar a Aldeia Ipegue, não deu ouvidos às críticas por ser mulher, indígena e divorciada, e aprendeu uma nova vida em Campo Grande para ver os três filhos conseguirem se formar na escola, entrar em universidades e ocupar os espaços que pareciam tão distantes. –
No último mês, Luiz Eloy, um dos quatro filhos de Zenir, defendeu seu segundo doutorado e, mais uma vez, dedicou sua tese à mãe. Assim como ele, Simone, Val e Glaucinéia também foram criados pela mãe com ajuda dos avós maternos.
“Quando meus filhos cresceram e se formaram vi que minha missão estava cumprida”, resume Zenir. Mas, antes de ver o trio alcançando o que a família havia sonhado, ela explica que muita coisa precisou ser enfrentada.
Filha de Julieta Antonio Pio e Celestino Eloy, Zenir conta que trabalhou duro desde muito cedo para ajudar os pais nas fazendas próximas à aldeia e, quando notou que precisaria criar um novo lar, tomou coragem e seguiu.
Zenir relata que na época, em 1997, ao invés de receber apoio para ir em busca de um futuro melhor, foi muito criticada. “Pois era uma mulher indígena, recém divorciada e que resolveu ir para cidade com os filhos. Isso era incomum na aldeia e costuma-se criticar muito dentro da comunidade. Hoje vejo muitas mulheres percorrendo esse mesmo caminho”.
Além das críticas, dificuldade de deixar a família para trás e vir para Campo Grande sem conhecer ninguém, ela detalha que aprender viver uma rotina mais solitária na cidade também foi algo a ser superado. Tudo isso enquanto precisava trabalhar para sustentar a casa.
“Cada passo deles era uma novidade, estudar na cidade, fazer vestibular, Enem cotas, enfim, tudo isso eu não sabia o que era. E tudo envolvia custos como passe de ônibus, taxa de inscrição, material e livros. Mas sempre trabalhei muito, teve época que trabalhava em três empregos ao mesmo tempo, nos fins de semana fazia faxina e ia de bicicleta para economizar passe de ônibus. Não tinha dia ruim, sol ou chuva eu tinha que ir trabalhar”, conta Zenir.
Por não conhecer ninguém na Capital que pudesse ajudar a se estabilizar, ela detalha que no começo foi até casas de família e fazia de tudo para conseguir aprender o máximo possível. “Tudo era novo para mim, mas tinha que enfrentar o desafio. Tive sorte de ter pessoas boas nessa trajetória, algumas ex-patroas eu tenho contato até os dias de hoje. Recebia muito incentivo, pois todas sabiam que eu estava ali por um objetivo maior, que era garantir o estudo dos meus filhos e ter uma vida melhor no futuro”.
Como ela explica, depois de 25 anos em Campo Grande, chegou o momento de retornar para a aldeia e hoje se dedica a cuidar dos netos, da roça e criação de animais.
Missão cumprida
Como Zenir conta, trazer os filhos para Campo Grande rendeu frutos e hoje ela se orgulha da trajetória de cada um. Val se tornou cacique da comunidade Tumuné Kalivono, é acadêmica do curso de zootecnia da Uems e segue como liderança indígena.
Luiz Henrique Eloy se tornou advogado da Apib (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil), doutor em Antropologia Social pelo Museu Nacional (UFRJ) e Ciências Jurídicas e Sociais pela faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, além de pós-doutor em antropologia pela École des Hautes Études en Sciences Sociales.
Simone Eloy Amado também se formou em Direito, é mestre e doutora em Antropologia pelo Museu Nacional (UFRJ), trabalhou como professora da rede estadual de MS e como antropóloga no Distrito Sanitário de Saúde Indígena de Mato Grosso. Atualmente faz parte da Assessoria Técnica de Políticas Indigenistas na liderança do PSOL, na Câmara dos Deputados e integra o corpo docente da Universidade Livre de Sociologia e Comunicação Afro-Brasileira.
Pensando sobre a trajetória da mãe, Luiz destaca que a decisão de Zenir foi fundamental para sua vida. De acordo com o advogado, ele sabia que não queria seguir os rumos dos primos, que trabalhavam com corte de cana nas fazendas próximas, mas sim estudar.
“Foi bem difícil, minha mãe já estava solteira, divorciada e meu pai, embora sendo indígena da própria aldeia, ele nunca prestou muita assistência. Fomos criados só pela minha mãe e quem nos ajudou foram meus avós maternos”, relembra Luiz.
Além das dificuldades sofridas pela mãe, Eloy conta que momentos difíceis também vieram ao chegar a fase da graduação. “O racismo eu não senti na escola pública, minha presença foi muito despercebida, mas na faculdade sim. Entrei pelas cotas e vi que era importante essa autoafirmação identitária, então já me apresentava como um acadêmico indígena porque eu via que era fundamental se apresentar, dizer que ali naquele espaço tão caro, tão privilegiado, tinha um indígena na faculdade de direito”.
Atualmente, trazendo a narrativa da família para o presente e pensando em outros indígenas que precisam seguir rumos parecidos, Luiz pontua que já há toda a escolarização na aldeia, mas que o momento da graduação ainda é um desafio. “Esses desafios estão postos, mas acredito que os povos indígenas vão cada vez mais acessar essas instâncias de estudo e participação social”.
Fonte: Campo Grande News